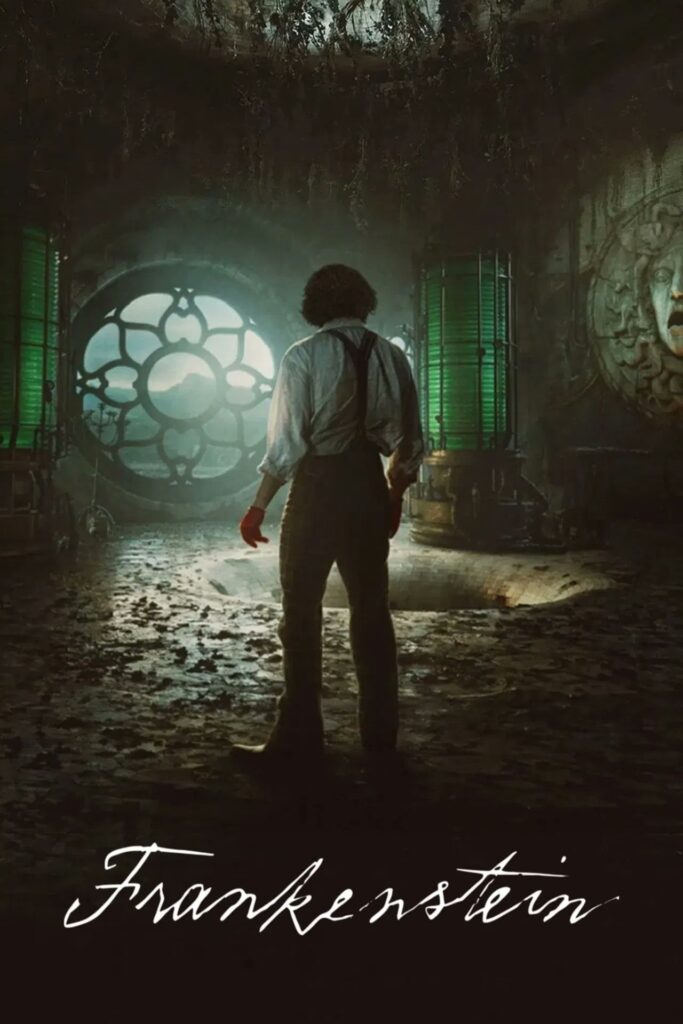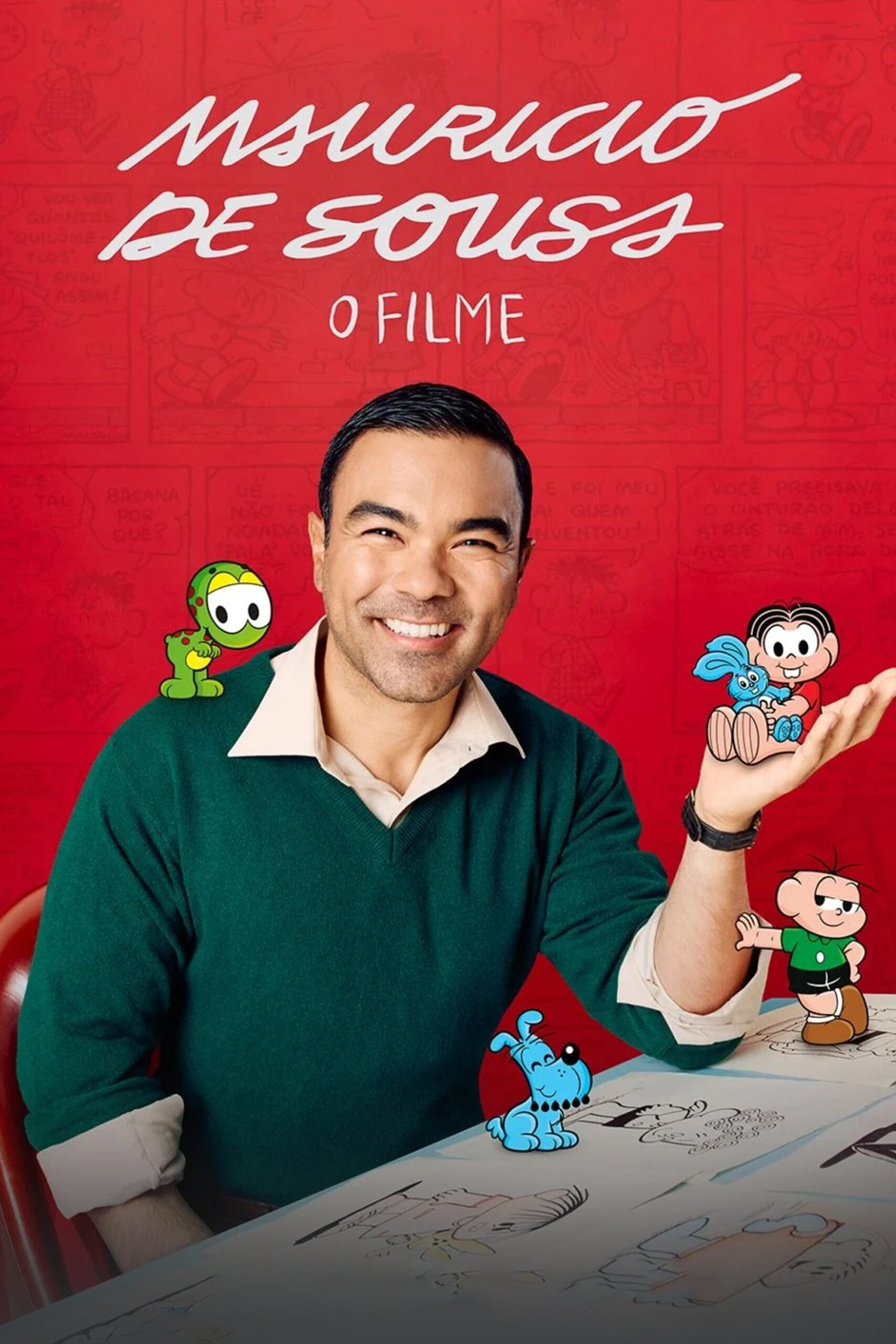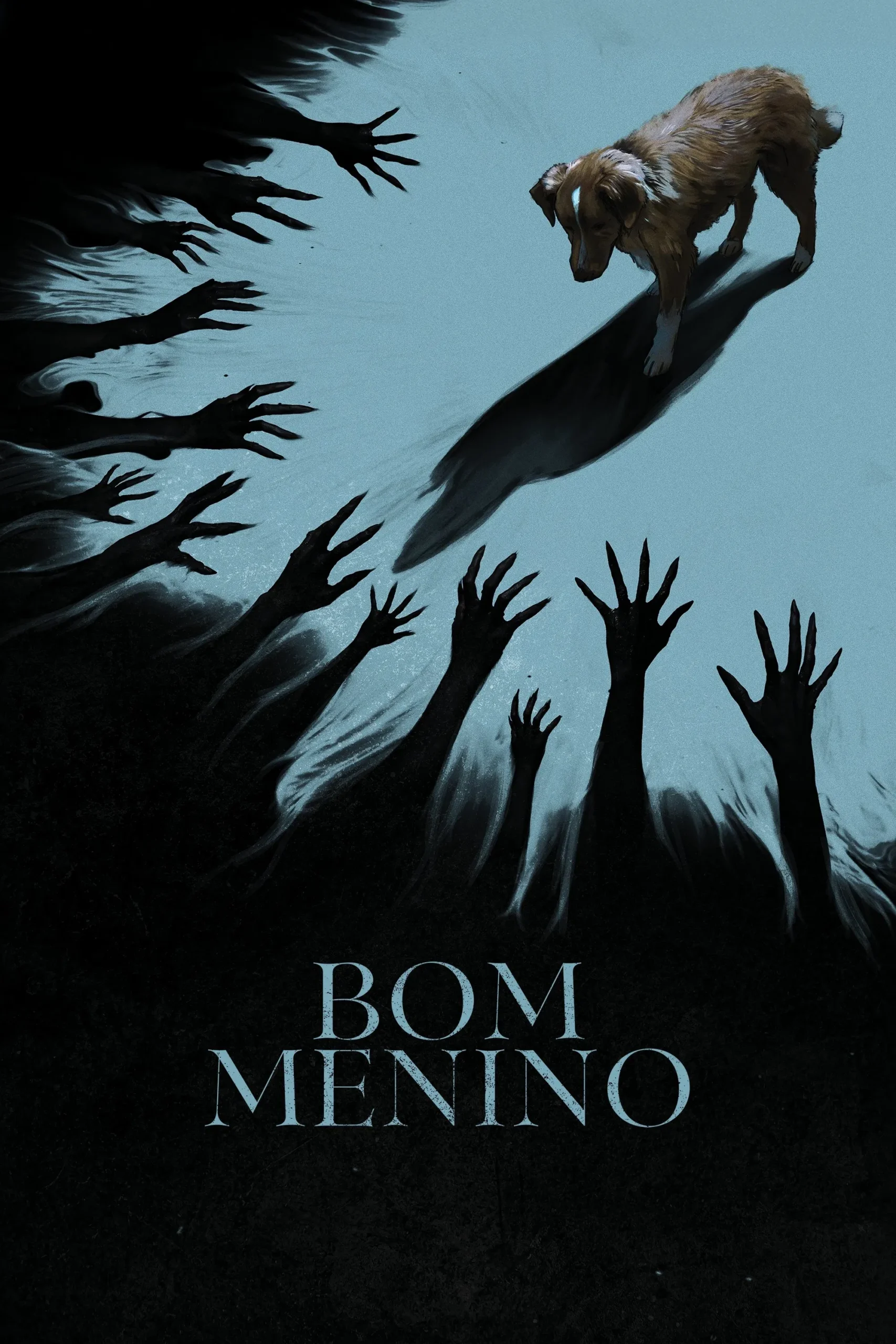Os filmes de Guillermo Del Toro sempre parecem nascer de uma imaginação ferida, assombrada por um medo constante de perder aquilo que se ama. Essa pulsão pode ser observada em seus órfãos e, sobretudo, em seus monstros, que carregam consigo a marca do desamparo e a consciência de que o mundo nunca será um lugar acolhedor para eles. Ao combinar essa temática com influências estéticas do catolicismo mexicano e da literatura gótica, sua filmografia parece ter sido moldada para culminar, mais cedo ou mais tarde, em Frankenstein. Acontece que a obra de Mary Shelley moldou o olhar do diretor desde cedo, o que faz com que esse encontro inevitável entre o autor e o mito que o inspirou resulte numa familiaridade imediata entre os dois mundos. Del Toro sempre tratou seus monstros com um viés de sensibilidade: seres repulsivos por fora, mas profundamente humanos em seu interior, e é por isso que sua adaptação da obra magna de Shelley fecha um ciclo autoral e consolida um cineasta que finalmente atinge a maturidade do próprio imaginário.
Um dos elementos mais instigantes do filme é a forma como ele incorpora duas abordagens dramáticas distintas. A primeira metade narra a história de Victor Frankenstein, desde a infância marcada pela morte da mãe e pela autoridade impositiva do pai até a culminação de sua obsessão científica, e é conduzida como um melodrama maximalista, onde tudo é excessivo e assumidamente teatral. Del Toro opta por essa abordagem porque lida com um personagem cuja visão de mundo foi moldada pelo trauma, e Oscar Isaac incorpora essa lógica ao interpretar Victor como um homem instável, abraçando gestos mais expansivos. Já na segunda metade, o eixo narrativo se volta para a Criatura, numa mise-en-scène mais contida e melancólica, que assume contornos trágicos. Em vista disso, Jacob Elordi atua de forma mais naturalista e vulnerável, coerente com a condição de um ser que se vê condenado à existência e à imortalidade. A princípio, esse contraste poderia sugerir uma falta de unidade estilística, mas o próprio filme indica o contrário, uma vez que a colisão entre o melodrama e a tragédia se torna a base da sua dramaturgia. É esse descompasso entre as duas tradições que dá forma ao arco dos personagens e permite que a narrativa avance por contrastes até convergir no encontro entre criador e criatura. No desfecho, quando Victor enfim compreende a dimensão da dor que impôs à Criatura e é perdoado por ela, as chaves dramáticas se invertem: o cientista tem um fim trágico e sem muita cerimônia, enquanto a Criatura passa a encarar sua imortalidade sob um olhar mais esperançoso, num encerramento que recupera a lógica melodramática.
Essa lógica dramática também explica a decisão de transformar Victor e a Criatura em dois polos morais absolutos, o que tem gerado resistência entre alguns admiradores do romance original de Mary Shelley. No livro, Shelley constrói personagens que operam em zonas ambíguas de culpa, vingança e desejo, brincando com a concepção de monstruosidade que transita entre criador e criatura. Lá, a Criatura vai além de uma vítima, sendo também capaz de atos de crueldade e vingança, enquanto Victor oscila entre arrogância, narcisismo e remorso, nunca se entregando por completo à vilania. Del Toro, porém, abandona essas nuances por operar em outra matriz dramática. No melodrama, a polarização moral é um dos pilares do gênero, adotando uma dicotomia bem marcada entre bons e maus, sem zonas cinzentas. Assim, a Criatura torna-se um emblema absoluto do pathos melodramático, um ser cuja bondade incorruptível intensifica a dor da rejeição, enquanto Victor encarna o oposto, não por simplificação, mas porque sua queda depende disso. Essas escolhas revelam como Del Toro privilegia o impacto afetivo em detrimento da ambiguidade psicológica, reinterpretando o clássico romance a partir de um regime de polaridades que sustenta seu projeto melodramático.
Se o melodrama vive de excessos, é na cor que o filme encontra sua forma mais sofisticada de extravasamento. O vermelho é fortemente associado à mãe de Victor e, por isso, está presente em tudo que cerca o cientista, do seu figurino à luz que pulsa nas bobinas que permitem reanimar cadáveres. É uma cor que sintetiza vida e morte, mas também obsessão e desejo. Já William, o irmão caçula, é sempre marcado pelo azul, símbolo de sua inocência e contraponto direto ao vermelho ardente de Victor. Elizabeth surge integrada ao mundo de William, com um figurino monocromático azul que indica seu “pertencimento” a seu noivo. Seu único traço vermelho é o pequeno crucifixo que ostenta timidamente no pescoço. À medida que o filme insinua a possibilidade de um envolvimento dela com Victor, o vermelho começa invadir seus adereços, como em sua sombrinha escarlate e no vestido que usa para visitar o cunhado; mas, como ela nunca cede às investidas dele, o vermelho desaparece e, gradualmente, o azul também. Quando ela e William decidem visitar a mansão do tio, o único vestígio de azul que resta é o véu que cobre seu rosto, um detalhe que mantém o vínculo da jovem ao noivo apenas nas aparências, e tudo que resta, então, é uma cor inédita em sua trajetória: o verde.
O verde é a cor predominante em tudo que envolve a Criatura, e como Elizabeth é a primeira a enxergar nele humanidade, ternura e dor, ela se desloca simbolicamente do eixo Victor-William e passa a integrar o território afetivo do monstro. Por isso, na segunda metade do filme, o desaparecimento quase total do vermelho indica o distanciamento da Criatura em relação à violência de seu criador. É um mundo onde ele enfim se reconhece como indivíduo, e Del Toro reforça essa perspectiva eliminando os tons que remetem à ferida original. O vermelho só retorna — em forma de sangue — quando os lobos atacam o velho cego, relembrando à Criatura que o mundo é hostil e que a sombra de Victor ainda o persegue. Quando Victor atira em Elizabeth, no clímax do filme, trata-se da única maneira de vinculá-la novamente ao tom: o vermelho se apossa violentamente do vestido branco de noiva que ela veste, e isso indica que o cientista encontrou na morte a única forma forma de reclamá-la para si, invadindo sua pureza cromática e subordinando-a ao vermelho pela brutalidade. Incapaz de resgatar o amor materno que tanto o assombra, Victor recorre à violência como a única linguagem que conhece.
Por fim, outra camada simbólica que Del Toro trata com primor é a leitura edipiana de Victor Frankenstein. O vínculo materno marcado pelo trauma e pela idealização é a base da ruína moral do cientista, traumatizado pela perda da mãe e pela incapacidade em lidar com o luto. O filme torna isso explícito no hábito que Victor tem em beber leite (um símbolo materno por excelência) e, sobretudo, ao escalar Mia Goth para interpretar tanto Elizabeth quanto a mãe do protagonista. Essa escolha afirma o inconsciente de Victor, que só ama a cunhada pois vê nela a mãe que perdeu. O Complexo de Édipo, entendido como o desejo reprimido que rege os vínculos afetivos, é um conceito que nos ajuda a compreender a trajetória destrutiva do personagem: sua obsessão em gerar vida e sua incapacidade de amar derivam da tentativa inútil de reviver uma presença materna que já não existe. Ele só ama aquilo que remete à mãe e, por isso, sua obsessão em criar vida é, acima de tudo, uma recusa desesperada da morte que assolou sua infância. É nesse trauma infantil, patológico e trágico que Del Toro ancora seu Frankenstein, reforçando que o foco de sua adaptação nunca foi a Criatura, mas o criador, cuja violência nos revela quem é o verdadeiro monstro da história.