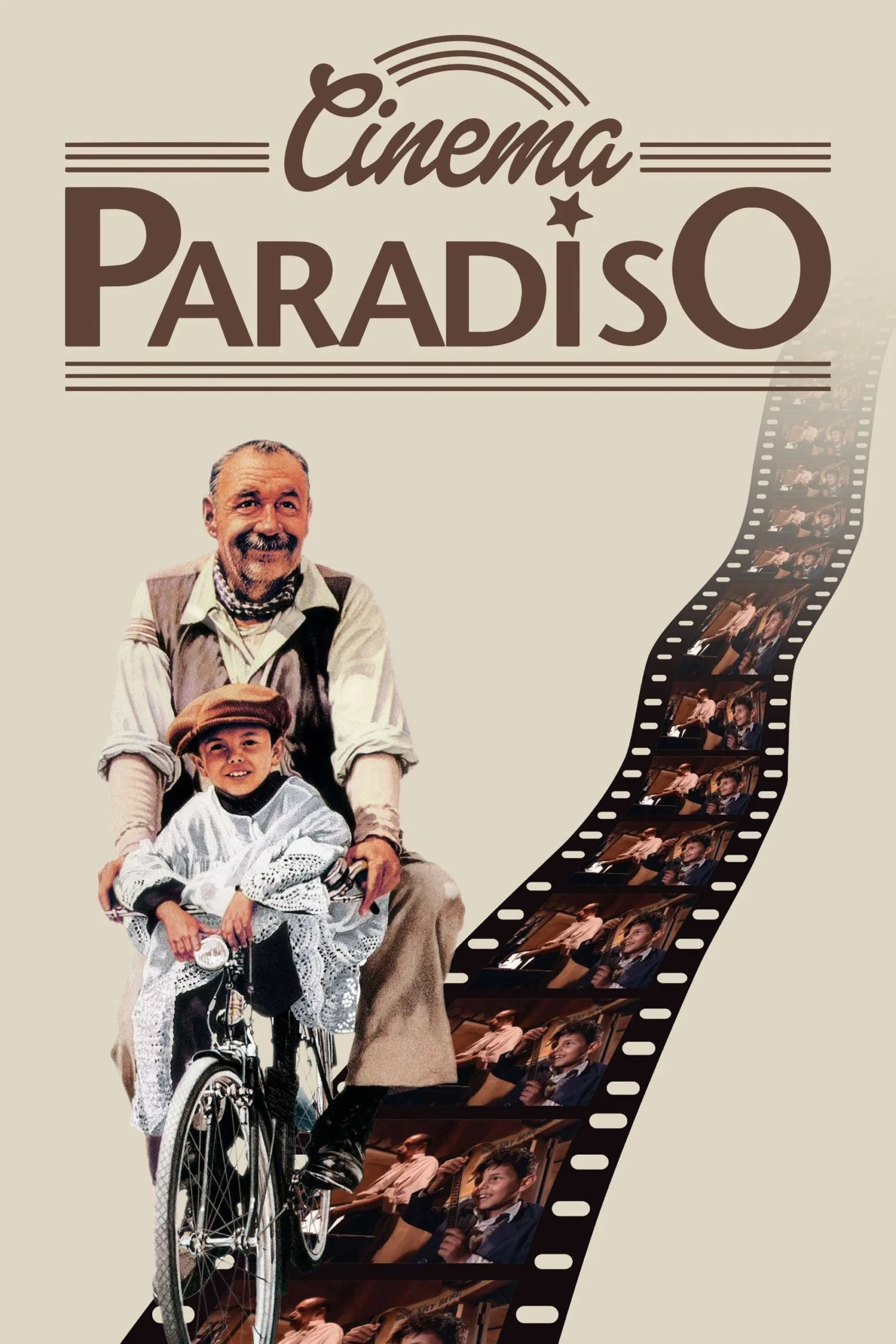O Filho de Mil Homens é, até aqui, o filme mais poético de Daniel Rezende. Não digo isso apenas pela delicadeza da obra ou pela suavidade de seu tom, mas pela coragem de fazer um longa que parece pensado sem preocupações com algoritmos ou tendências de catálogo, mesmo sendo um original Netflix. Dessa forma, ele fica longe de ser só mais uma adição genérica às prateleiras da gigante de streaming e jamais nos passa a sensação de produto serializado, tão comum atualmente. O que ocorre é justamente o oposto: uma sinceridade visual e sonora que repele os padrões mercadológicos da indústria de consumo, e é nessa ousadia de adaptar um livro “infilmável” — escrito em fluxo de consciência e sem uma estrutura convencional de começo, meio e fim — que o filme se entrega a uma linguagem tão singular. Rezende, ciente dos desafios que teria nessa transposição, decide colher do material-fonte suas maiores forças, privilegiando a experimentação em vez da obviedade de uma narrativa tradicional, e essa decisão, por si só, já é um gesto artístico raro.
Na obra, conhecemos Crisóstomo, um pescador solitário que vive isolado numa pequena vila e carrega dentro de si a culpa por não ter conseguido ser pai. À procura de um filho, ele adota Camilo e forma uma família que, mais tarde, ainda acolherá Isaura e Antonino, dois jovens que tentam se desvencilhar de seus passados traumáticos. A trama nos convida a abraçar a dor alheia e repensar o que entendemos por masculinidade, num processo delicado que enfatiza pequenos gestos de acolhimento e de escuta, indo na contramão da rigidez ensinada aos homens desde a infância. A obra não tem medo de apontar o amor como a única possibilidade para desmontar preconceitos mantidos a gerações, mas também não o trata de forma reducionista, dado que esse mesmo amor também é trabalhoso, falho e vulnerável. É impressionante como o diretor não abandona a herança literária da obra, mas alia às ideias originais um olhar cinematográfico que as complementa, unindo a prosa à gramática audiovisual sem que uma desmereça a outra no processo.
Essa sensibilidade do conteúdo também se nota na relação dos personagens com o cenário. Rodado em Búzios (RJ) e na Chapada Diamantina (BA), o longa se vale do espaço como extensão emocional de seus protagonistas, filmando o litoral brasileiro como um signo da solidão. Assim, as grandes pedras negras estilhaçadas pelo mar compõem um lugar isolado e opressivo, praticamente banido da vida em comunidade do vilarejo e que, para ser habitado, exigirá muita resiliência, repelindo e protegendo na mesma medida. É um cenário desconvidativo que, por conta disso, se torna ideal para que os quatro excluídos se guardem do mundo exterior, tão hostil e intolerante. Nessa ambiguidade espacial, onde a imponência do rochedo sustenta a possibilidade de relações familiares singelas, o filme tece comentários sobre essas pessoas com visões tão diferentes de mundo, mas com dificuldade em verbalizar suas dores.
Outra característica marcante do longa é a recusa da ironia pós-modernista que vem se tornando norma no cinema contemporâneo. Rezende dá espaço para um sentimentalismo puro e frontal, mas paga o preço dessa escolha ao expor seus excessos. A tentativa de preservar frases poéticas do romance de Valter Hugo Mãe implica em diálogos por vezes artificiais, excessivamente ensaiados e pouco naturais. Ainda que grande parte dessas frases sejam belíssimas, sua entrega irregular gera a sensação de um filme que hesita em confiar plenamente na própria forma. Quando a obra confia em seus planos, em seus silêncios e em seu desenho de som tão único, ela beira o sublime; quando tenta repetir o lirismo do livro à força, tropeça inevitavelmente na artificialidade. Rodrigo Santoro é o único com expertise para transformar a rigidez das falas numa virtude, trabalhando seu Crisóstomo com uma ternura e ingenuidade tão genuínas que a teatralidade se torna parte de sua maneira de se expressar. Ainda assim, esses raros deslizes não anulam o conjunto, apenas evidenciam a dificuldade natural de transitar entre duas linguagens tão distintas sem perder material no caminho.
Nos momentos em que o longa abandona qualquer tentativa de verbalizar a poesia e deixa que as ações falem por si, aí sim surgem algumas das cenas mais tocantes do ano. A cena em que Crisóstomo, Camilo e Isaura comem jabuticabas e cospem os caroços pela janela só é tão potente pois sabe que não precisa de nenhum monólogo autoexplicativo: a descontração também pode ser poética e dizer muito sem que nada seja dito. De forma parecida, a descoberta de Antonino sobre o hábito de gritar em frente ao mar condensa o que o longa tem de mais humano. Johnny Massaro entrega aqui um dos pontos altos da obra, transmitindo em seu olhar anos e anos de repressão emocional, todo o peso de ter sido tratado a vida inteira como um bicho e, finalmente, o alívio em descobrir que pode se expressar e que existe uma família disposta a acolhê-lo sem ressalvas. É nesse pequeno e memorável instante que o filme encontra o seu âmago.
O Filho de Mil Homens, enfim, entende que não existe um jeito certo de adaptar uma obra literária para o cinema, e que a busca por uma suposta fidelidade quase sempre enfraquece qualquer gesto artístico. Por isso, Daniel Rezende não tenta simplesmente ilustrar o romance de 2011, se moldando às expectativas externas de uma adaptação obediente, mas o transforma através da linguagem que domina. Sua direção assume riscos, abraça uma encenação nada convencional e desnuda o íntimo de seus personagens, mesmo que nem sempre tenha êxito nisso. Contudo, é justamente esse atrito entre o impulso de experimentar e a possibilidade de errar que produz uma obra tão singular. Ao final, atestamos que Rezende valorizou a liberdade acima da segurança, e foi essa coragem que proporcionou um dos filmes mais belos do ano.