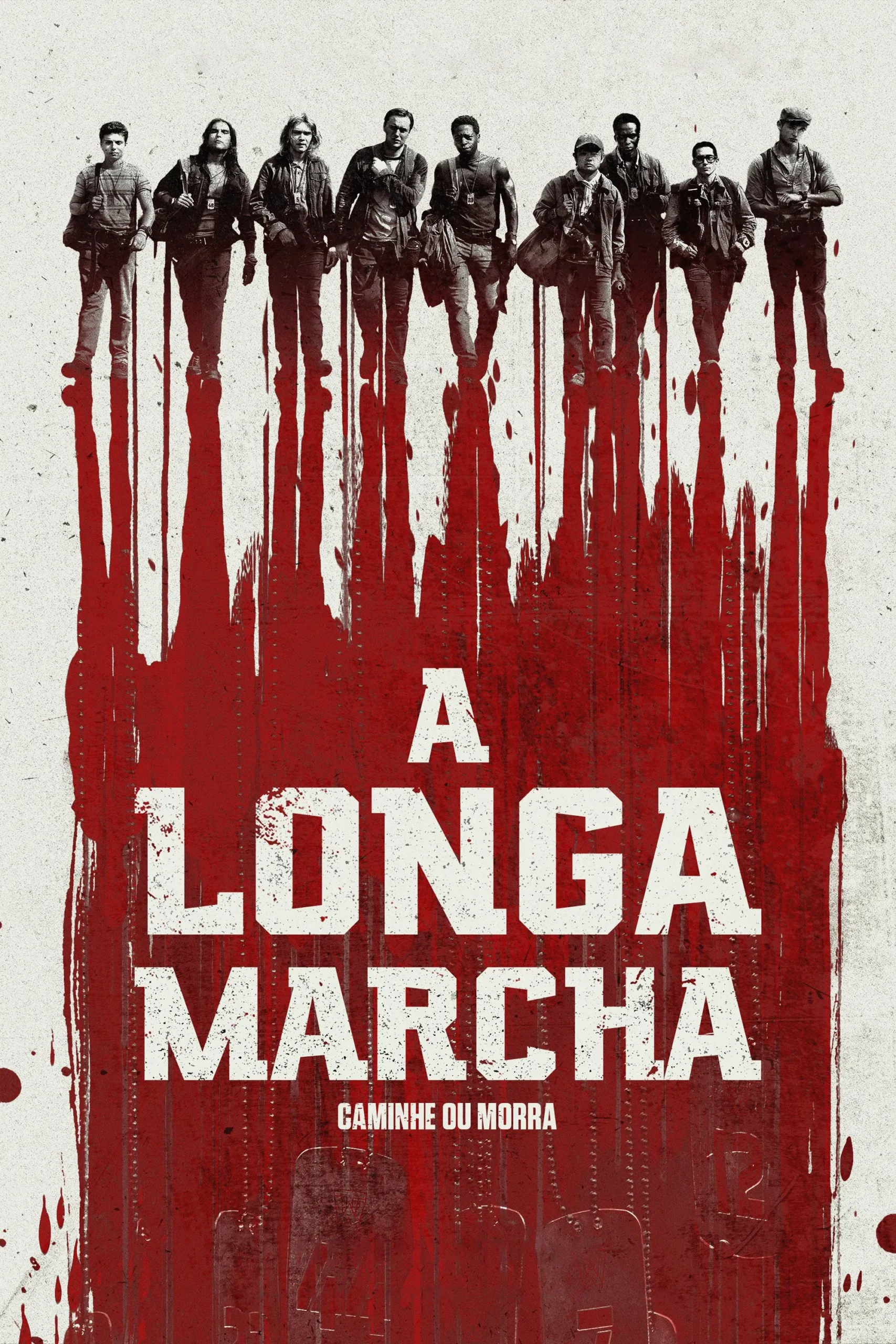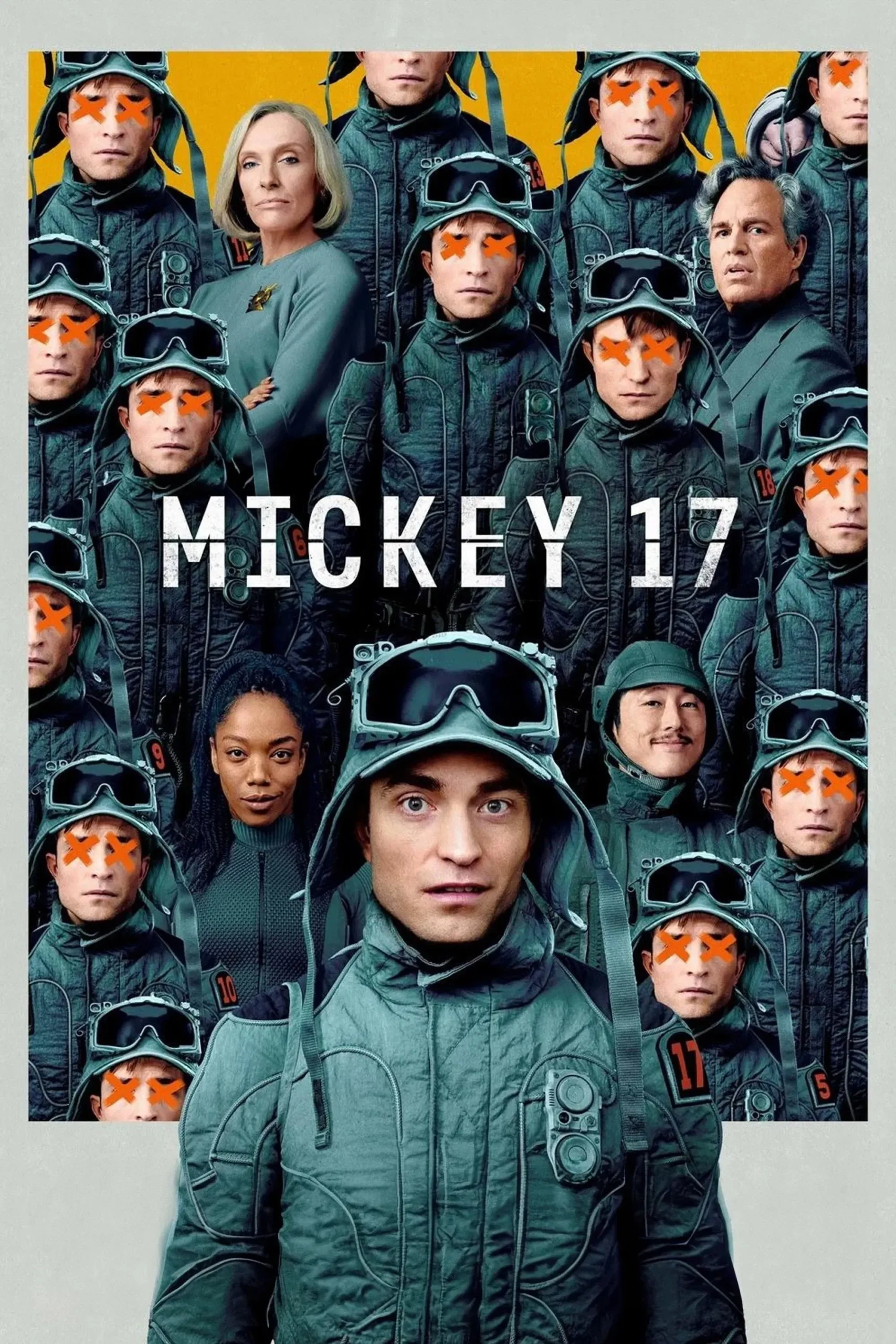Em 2016, quando A chegada estreou, um crítico da revista Times escreveu que essa obra era “um filme de alienígenas para pessoas que não gostam de filmes sobre alienígenas”. Pode ser uma impressão errada, mas grande parte dos filmes de ficção científica sempre foi mais do que efeitos especiais. Pensando nisso, lembro-me de Metrópolis (1927) e sua luta anticapitalista. De fato, o blockbuster contemporâneo de Villeneuve disfarça sua denúncia aos problemas de comunicação política, porém, não foi a primeira vez que isso aconteceu. Contatos imediatos do terceiro grau, de 1977, usou notas músicas como linguagem para homens e aliens se comunicarem. Por mais que A chegada faça com que essa ligação seja mais interessante, seus caminhos nem sempre são os mais chamativos.
Adaptado do conto História da sua vida, de Ted Chiang, o longa-metragem discorre sobre um dia em que doze naves espaciais aterrissam na Terra. Nisso, a linguista e tradutora especialista, Dra. Louise Banks (Amy Adams), é convocada pelo exército norte-americano para se comunicar com visitantes e descobrir a razão pelas quais eles vieram nos visitar. Com o andar dos dias, os assim chamados heptapodes passam a se comunicar não apenas pelos barulhos de baleia, mas também por símbolos circulares flutuantes. Em busca do propósito da vinda dos alienígenas, Banks acaba descobrindo o significado de sua própria vida.
Existem duas peças fortes e centrais no filme, porém, o que realmente o sustenta é a maneira que essas duas se entrelaçam, funcionando também como adereços simbólicos. Em primeiro lugar, o protagonismo de Banks dá o tom da narrativa. Em uma rápida colagem inicial, vemos que a doutora perdeu sua única filha para um câncer. Seu desenrolar é amargo, ao passo que Louise desdobra seus dias como uma depressiva, de alma sombria. Isso está longe de ser uma novidade: comumente, os líderes de histórias como essa sempre se alinham com princípios de familiares disfuncionais — Ryan Stone (Sandra Bullock) de Gravidade (2013) é quase uma contemporânea. No entanto, o caminho traçado por Banks no final é uma redenção para sua banalidade narrativa.
Em seguida, a comunicação assume uma relação de simbolismo, ao passo que as transmissões adotam papéis iconográficos. Na maioria das vezes, essa relação estabelece uma certa dinâmica de hierarquia por meio de gestos basilares. Existe uma cena que marca esse ponto: quando Louise e seu novo companheiro de trabalho, Ian (Jeremy Renner), sobem pela primeira vez na nave, o físico passa suas mãos pela parede externa do veículo. O contato pelo tato é infantil e instintivo, mas seu contexto é mais tecnológico do que um de sobrevivência. Há vários instantes em que a raiz humana grita mais alto, e é por meio desses elementos que os humanos são postos como inferiores aos turistas do espaço — o que é apenas comprovado pela falta de comunicação vista mais adiante, causadora de todos os problemas. O entrave não é sua tecnologia menos avançada, mas sua humanidade que não aparece seguir em frente.
Porém, quando esses dois pontos colidem em suas questões substanciais, o filme atinge seu ponto mais forte. Depois do governo chinês declarar guerra contra os alienígenas, a base onde a doutora estava trabalhando começa a ser evacuada. Banks decide ir mais uma vez para dentro da nave, em que é informada que os heptapodes querem ajudar os humanos porque no futuro eles precisarão de ajuda, bem como descobre que eles conseguem ver o futuro devido à forma com que sua língua funciona. Nesse momento, Louise já está imersa o suficiente na experiência não apenas para falar a língua do estrangeiro, mas, sim, para pensar como eles, modificando sua percepção de passagem do tempo. Ela tem uma premonição, a qual revela que ela conseguirá impedir a guerra quando disser as últimas palavras da falecida esposa do governador chinês. Em uma ligação, ela repete as palavras que ele contaria para ela no futuro, percebendo-as como memórias.
Porém, essa percepção cronológica não é reestruturada apenas no universo fílmico, mas também na maneira que todo o filme vinha se apresentando até aquele momento. Partindo disso, fica claro que a filha de Louise, que faleceu no começo do filme, ainda não nasceu e o pai dela seria Ian, que Banks conheceu durante seu trabalho com os alienígenas — que até aquele instante era posterior a depressão da doutora. Esse não é um plot twist tão forte quanto parece, ao passo que inúmeros filmes dentro e fora do gênero, nos últimos anos, optaram pela quebra temporal como ferramenta de virada. O que talvez equilibre a balança é a dosagem de significado que está por trás desse artifício.
Como comentei há algumas semanas em meu texto de Duna: Parte 2 (2024), Denis Villeneuve é um dos diretores mais essenciais para a ficção científica dos últimos anos. Em A chegada, ele prova seu domínio, principalmente na construção do suspense — raramente vemos os aliens por inteiro —, de atmosfera — a névoa de Montana parece remeter uma visão turva da falta de comunicabilidade — e de virada de chave. No ínterim, o filme casualmente se torna lento, para além de soar frio demais: Adams tem espaço suficiente para respirar sem precisar dividir a tela com efeitos especiais, mas sua personagem nem sempre parece ser tão humanizada quanto deveria — Banks e suas dores são ordinárias. O sentimento é de um filme que se mantém distante, embora seu propósito seja conexão.
Desde seu lançamento, A chegada ganhou um grande grupo de seguidores. Uma parte deles se agrada mais pelo simbolismo político — que, visto agora, também não é tão especial, mas à beira do início do governo Trump faz jus a sua temporalidade. No fundo, talvez, esse filme não seja tão arrojado quanto aqueles que deram os primeiros passos que esse tenta replicar, mas sua intenção moral é mais do que nobre.
(Nota: Este texto foi publicado originalmente no site Cinemanorama e, desde setembro de 2025, encontra-se também disponível no site Suborno.)