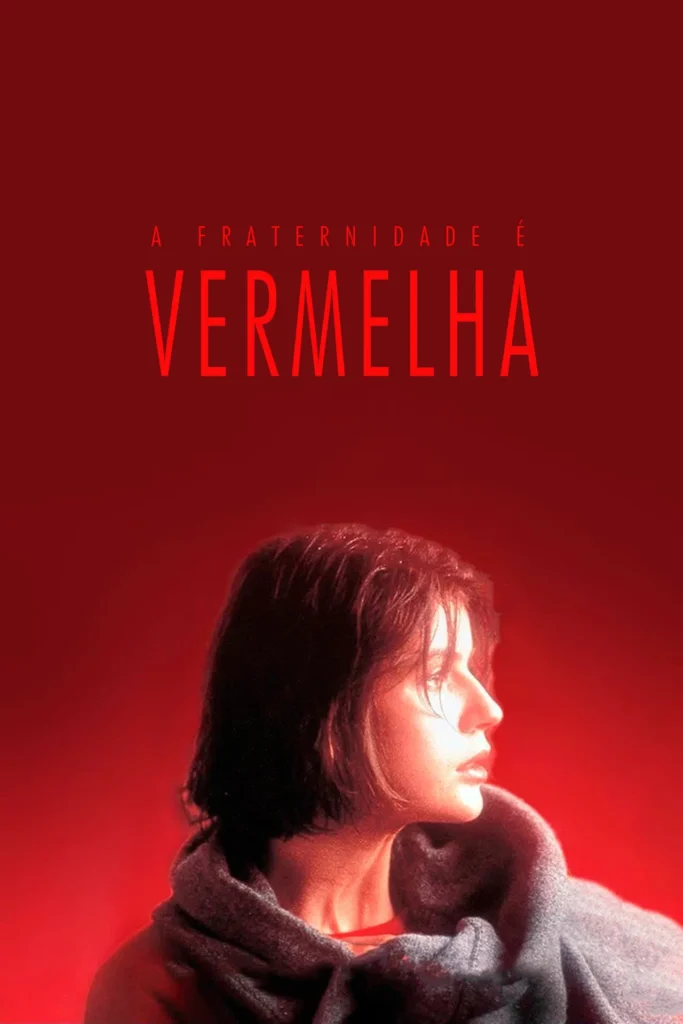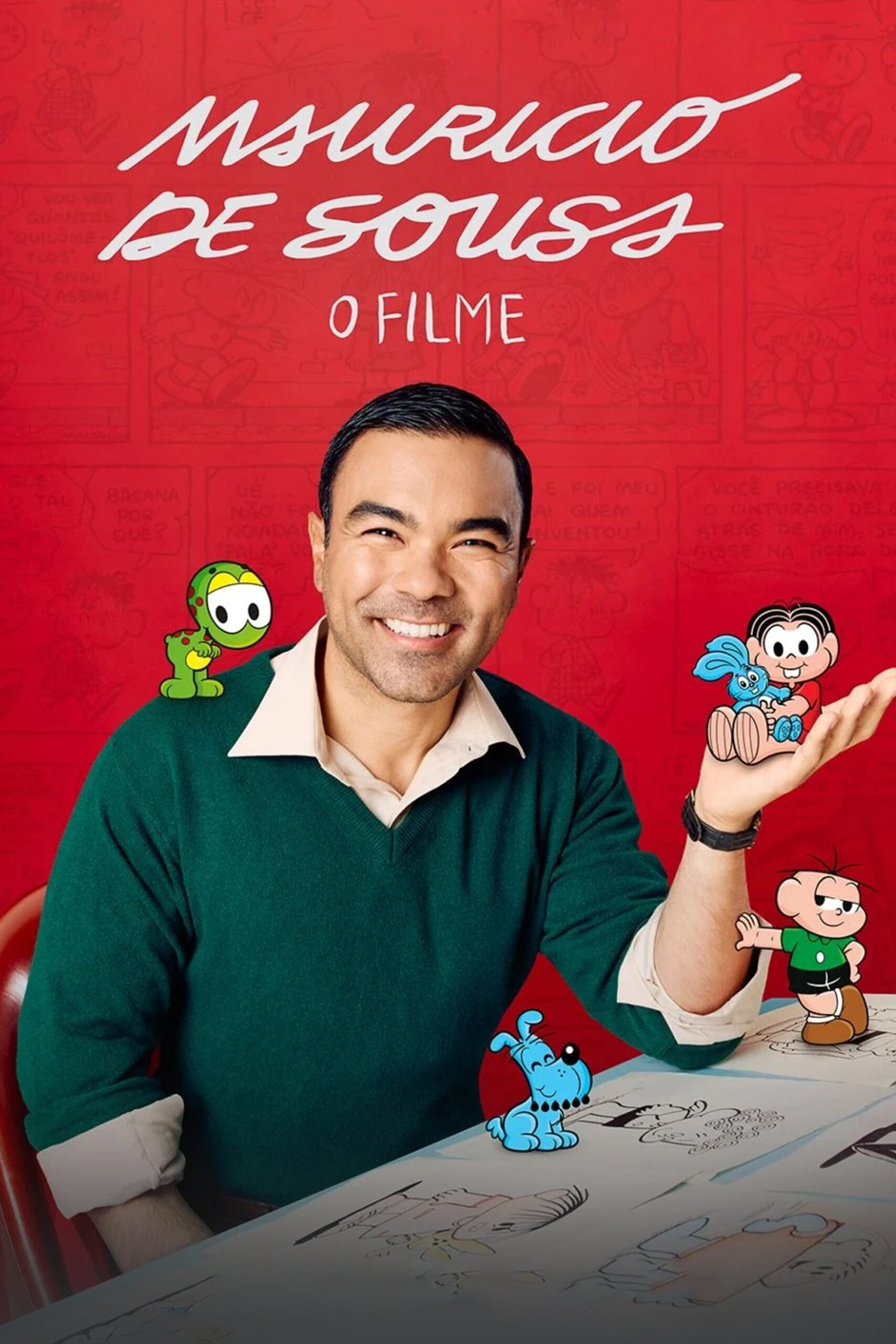O último filme da Trilogia das Cores é o trabalho mais existencial e metafórico de Krzysztof Kieślowski. A Fraternidade é Vermelha (1994) propõe uma reflexão sensível sobre a fraternidade enquanto valor vivo, mas efêmero. Durante grande parte do filme, o diretor destaca as sutilezas do acaso para revelar como a dimensão ética do encontro humano escapa de definições rígidas e existe na tessitura de pequenos gestos. Mais do que nos outros filmes da trilogia, aqui Kieślowski aposta ainda mais na cor tema para propor que a fraternidade não seja um ponto de chegada, mas um processo contínuo. Desse modo, o foco narrativo está em mostrar que as vivências reais dependem de uma abertura para o imprevisível e de uma disposição para acolher o outro em sua singularidade. Com isso, A Fraternidade é Vermelha é o filme mais abstrato da trilogia, mas também o mais humano.
No filme, Valentine (Irène Jacob) é uma estudante que vive em Genebra e trabalha meio período como modelo. Certa manhã, ela atropela a cachorra de Joseph Kern (Jean-Louis Trintignant), um ex-juiz aposentado que leva uma vida solitária e reservada. Em um primeiro momento, o ex-juiz ignora as tentativas de contato da moça, mantendo uma postura distante. Posteriormente, Valentine descobre que Kern passa grande parte dos dias ouvindo escondido as conversas de telefone de seus vizinhos através de um aparelho de rádio capaz de interceptar as linhas telefônicas de maneira ilegal. Apesar do choque inicial, conforme os dias passam, Valentine cria uma afeição pelo homem misterioso, desvendando o enigma de alguém cuja obsessão é invadir a intimidade das pessoas e acompanhar passo a passo o desenrolar de seus destinos.
Ouso dizer que entre os três filmes, esse é o que tem o significado mais complexo. Isso porque Kieślowski desloca o conceito político da fraternidade para o plano íntimo e existencial. Enquanto os filmes anteriores parecem trabalhar seus conceitos no âmbito do social e da interioridade, Fraternidade foca nos laços afetivos que unem desconhecidos. O filme é construído sobre coincidências e paralelismos, reforçando a ideia de que a fraternidade surge de encontros imprevistos. No começo do filme, o diretor intercala planos de Valentine e Auguste (Jean-Pierre Lorit), cada um em sua casa, atendendo e desligando o telefone, em momentos paralelos. Esse paralelismo é provocativo, mas não satisfaz a expectativa fundamental do encontro dos dois: você sempre acha que eles irão se falar, mas isso nunca acontece — na realidade, eles nunca chegam a se encontrar ou se conhecer.
Essa construção de paralelismos e causalidade é eficaz por conta da direção sofisticada de Kieślowski, que assume uma abordagem mais criativa. Na cena de abertura, vemos uma simulação de um percurso por uma linha telefônica. Mais tarde, vamos descobrir que isso se torna um símbolo duplo tanto para a reunião — o juiz que bisbilhota a vida alheia em busca de suprir o vazio dos seus dias — quanto para a separação das pessoas — Michel, o namorado babaca de Valentine que constantemente a destrata em suas ligações. Em outro caso, podemos refletir sobre como a disposição espacial reforça a força do destino: são vários os momentos em que Valentine cruza com Auguste, mas eles nunca se falam ou sequer se olham. Para complementar, os planos são excepcionais, atendendo à necessidade de mostrar, visualmente, uma solidificação premonitória que escapa até aos nossos olhos.
Como mencionei no começo do texto, Fraternidade é o filme que mais usa a cor-tema em sua diegese. Na verdade, quando comparada com as outras duas partes da trilogia, essa é a que trabalha o vermelho da forma mais descarada. Em primeiro lugar, percebemos que a cor aparece em objetos-chave — o carro de Valentine, o cartaz publicitário, as cadeiras do teatro — representando emoções intensas e contraditórias — do amor à raiva. Em segundo momento, lembro-me do que Leonardo Campos, para o Plano Crítico, escreveu sobre o filme, argumentando que o vermelho remete ao “sangue das relações humanas”, simbolizando a circulação de afetos e feridas que ligam os personagens. É verdade que além de unificar os temas do filme, funcionando como um campo magnético que agrega as vidas dispersas, esse uso da cor acaba contribuindo para Fraternidade ser o filme mais bonito do diretor.
Pensando na figura de Valentine, ela acaba sendo tanto a protagonista mais cativante da trilogia quanto a manifestação mais evidente do melodrama. É verdade, no entanto, que ambas as coisas estão entrelaçadas. Irène Jacob está linda, mas acaba sendo a tolerância e o bom coração de Valentine que a coloca mais próxima de nós. Embora seja repleta de boas intenções e carregue uma energia de heroína do cotidiano, a jovem ainda sofre com a solidão. Michel, seu namorado, está viajando e o pouco contato que os dois têm é por ligações telefônicas que, na maioria das vezes, acabam em discussão. Claro que essa situação coloca a psique da moça em jogo — por que ela se coloca em uma situação tão deplorável? —, mas, ao recordar sua relação com Kern, as coisas ficam mais claras: como ele mesmo diz, ele tem atitudes asquerosas e ilegais, mas Valentine enxerga além — ela percebe o que importa.
No final do filme, Valentine pega uma balsa para a Inglaterra. No dia seguinte, pela televisão, Kern descobre que o Canal da Mancha sofreu com uma grande tempestade e que quase todos os passageiros morreram. Neste momento, vemos os sete sobreviventes: Auguste e Valentine, Julie e Olivier (de A Liberdade é Azul), Karol e Dominique (de A Igualdade é Branca) e um homem desconhecido para nós. Embora essa conexão entre os três filmes seja chamativa, prefiro atentar para o que Kieślowski pretende com isso. Em um primeiro momento, a tragédia simboliza uma Europa frágil, unida pela catástrofe, o que mostra como a fraternidade só tem valor quando se realiza na adversidade em um mundo fragmentado. Também vemos a redenção de Kern: ele assiste ao resgate e sorri ao ver que Valentine está viva. A lágrima em seu rosto sugere a retomada da conexão humana.
Na Trilogia das Cores, Kieślowski constrói um cinema de micropolítica em que a liberdade, a igualdade e a fraternidade se encarnam em gestos simples. Para isso, ele desloca os ideais revolucionários franceses do plano político-abstrato para a microescala do cotidiano, revelando-os como experiências íntimas e, por vezes, paradoxais. Nisso, a trilogia demonstra que a liberdade só se realiza no vínculo afetivo, a igualdade no reconhecimento mútuo da vulnerabilidade — o que eu, particularmente, não vejo com concretude, mas entendo —, e a fraternidade no gesto imprevisto de empatia entre estranhos. O que se sintetiza no final é a tese Kieślowskiana: os grandes ideais não se concretizam em esferas institucionais, mas no tecido sensível das relações humanas, muitas vezes mediadas pelo acaso, pela dor ou pela coragem de interromper a própria solidão para enxergar o outro.
(Nota: Este texto foi publicado originalmente no site Cinemanorama e, desde setembro de 2025, encontra-se também disponível no site Suborno.)