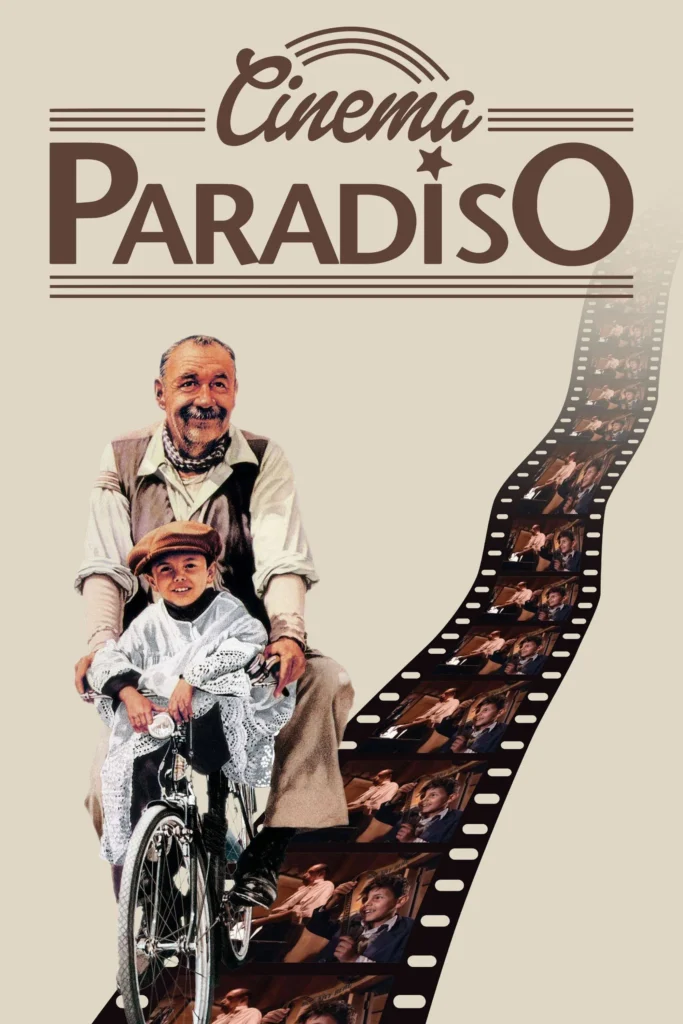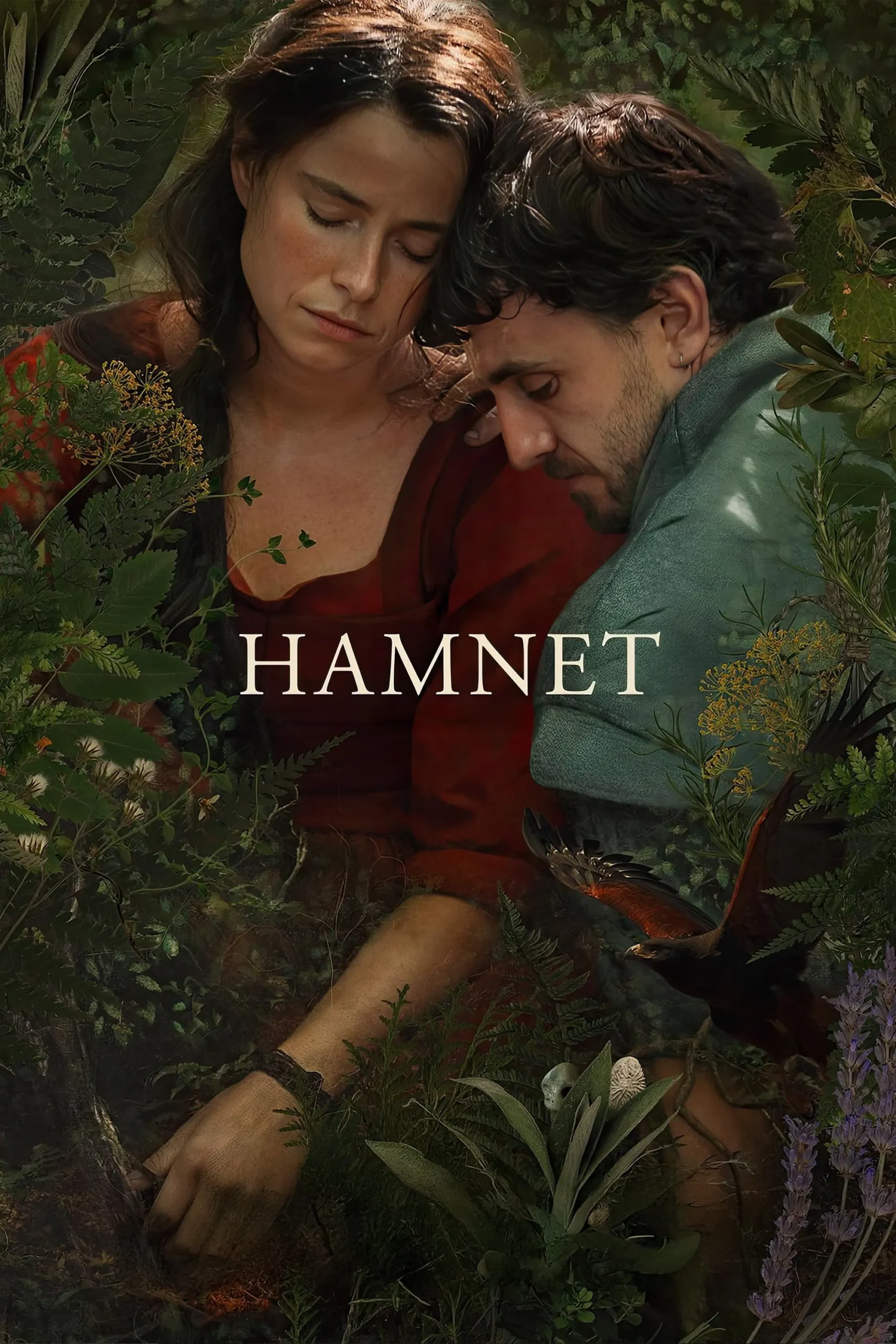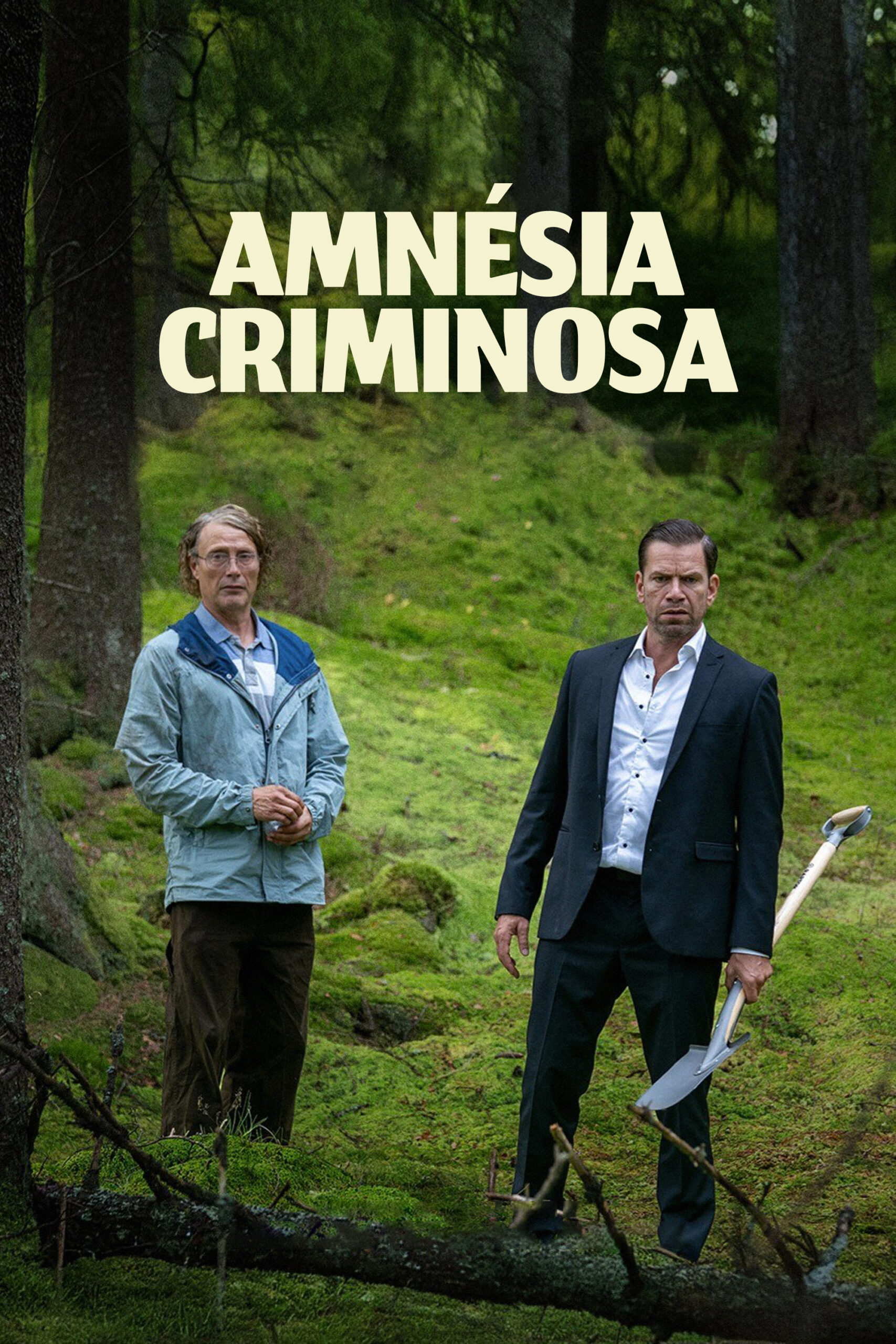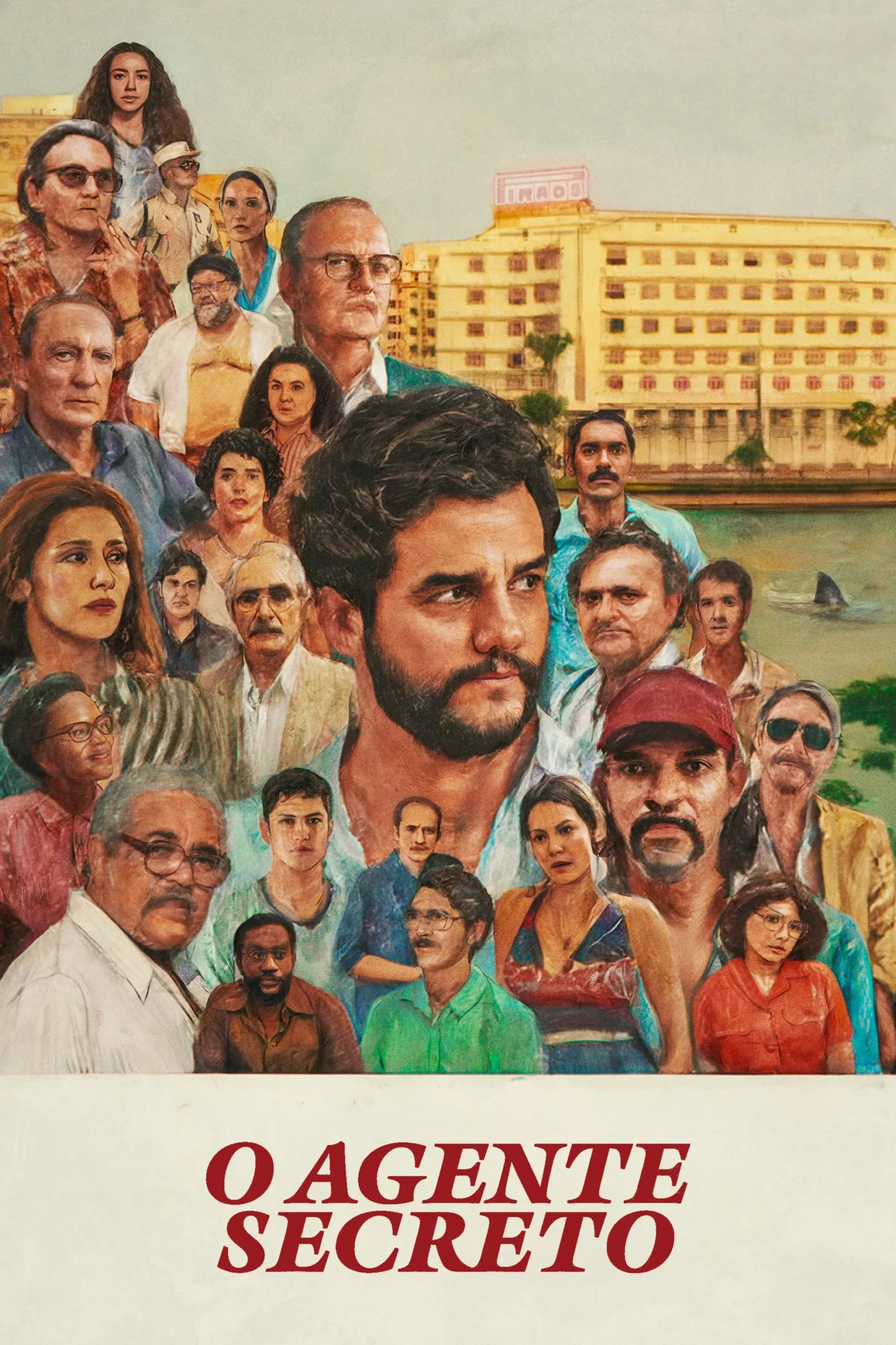— Há quanto tempo fechou?
— Em maio faz seis anos. Não vinha mais ninguém. O senhor sabe: a televisão, o vídeo cassete… mas hoje o cinema é um sonho.
Ir ao cinema nunca foi tão complicado. As salas, que já foram sinônimo de uma magia que nos permitia ver algo inédito na companhia de desconhecidos, passam por um processo gradativo de substituição pelo streaming, seja pela praticidade de assistir a um filme no conforto da própria casa, seja pelos preços abusivos que muitas redes precisam praticar em seus ingressos para continuar existindo. O que se observa, então, é um público que começa a examinar cuidadosamente quais obras merecem ser vistas na telona: filmes-evento que demandam uma audiência imediata; filmes que passariam despercebidos, mas começam a ser muito elogiados online; ou filmes cuja divulgação parece implorar pelo escuro da sala, pelo som reverberando no corpo e pela imagem projetada em escala monumental. Nesses casos, finalmente, tudo colabora para que esse ambiente faça jus à experiência audiovisual que promete… só que não. É impossível ter uma boa sessão quando constatamos, numa frequência cada vez maior, um público pós-pandêmico que não sabe mais se comportar em um ambiente coletivo, conversando em voz alta, recorrendo às luzes fortes de seus celulares sem se importar minimamente com quem está sentado na poltrona ao lado e, algumas vezes, preferindo até assistir a outros vídeos ou ouvir áudios de WhatsApp enquanto o filme acontece à sua frente. Isso escancara a urgência de discutir o individualismo desmedido de nosso tempo, onde se perde a capacidade de apreciar algo coletivamente simplesmente porque se criou o costume, ao ver filmes em casa, de relegá-los ao papel de “segunda tela”. Assim, os conteúdos que dominam as redes sociais tornam-se cada vez mais superficiais, descomplicados e viciantes, com vídeos que evitam ao máximo ultrapassar os 30 segundos de duração, pois visam liberar a maior quantidade possível de dopamina, viciando os usuários em recompensas sensoriais imediatas e criando distrações com as quais o cinema nunca conseguirá se igualar.
É nesse cenário de desinteresse coletivo que Cinema Paradiso ressurge como uma memória do que o cinema já significou, transcendendo a mera homenagem nostálgica à sétima arte e se firmando como um filme sobre o próprio ato de lembrar. Ao acompanhar o amadurecimento de Totò, Giuseppe Tornatore nos conduz em um percurso que espelha o de qualquer espectador apaixonado que, um dia, viu na tela algo que o transformou. Assim, a passagem de tempo é pautada menos pelas trocas de atores e mais pela evolução comportamental do protagonista diante de todas as mudanças que se impõem em sua vida — e das renúncias que elas exigem —, fazendo com que o personagem precise aprender a lidar com a vastidão do mundo que existe fora da sala de cinema, mas sem jamais se libertar totalmente dela. Em vez de idealizar o passado e pintá-lo como algo utópico, Tornatore observa como a memória é capaz de reorganizá-lo, tornando-o mais nítido e mais distante ao mesmo tempo.
Em meio à nostalgia que remonta à belíssima amizade de Alfredo e Totò, fica claro que a encenação se centraliza no próprio Cinema Paradiso, retratado como um espaço que vai além da sala de exibição para se tornar o principal ponto de encontro do vilarejo. É nele que a cidade se reúne para rir, brigar, chorar e se apaixonar; é nele também que o sagrado e o profano coexistem, com o padre sempre dedicado a censurar os beijos exibidos na tela e o projecionista, Alfredo, secretamente guardando essas cenas para si. O Nuovo Cinema Paradiso é, dessa forma, um lugar onde o tempo parece suspenso, onde as diferentes rotinas permitem uma pausa para que todos possam fugir de suas realidades. Quando as sessões se encerram, não é raro ver espectadores que continuam sentados em suas poltronas, ávidos em reassistir à obra projetada a instantes, e é por detalhes como esse que o fechamento do cinema, anos depois, se torna tão doloroso: a ruína daquele espaço simboliza o fim de uma era, o colapso de um vínculo coletivo que foi interrompido, sem piedade, em nome do progresso.
A trilha musical de Ennio Morricone assume, nesse contexto, a função de ponte entre o passado e o presente. Suas composições tornam-se a voz melódica de uma saudade que não pode ser alcançada por palavras, e o icônico tema principal se ancora numa progressão harmônica simples: uma sequência ascendente que parece buscar resolução, mas que sempre se detém antes de alcançá-la, restando só a melancolia da lembrança. Essa indecisão tonal cria um efeito de suspensão que prolonga o alcance das imagens, ampliando a atmosfera onírica da obra sem jamais ditar seu tom emocional de forma impositiva. Em vista disso, quando o tema é retomado no epílogo, onde é tocado em conjunto à montagem dos beijos censurados, a música ressignifica todas as incertezas que a narrativa fragmentava até então e confere tangibilidade às lembranças por deixá-las, finalmente, ao alcance do protagonista. É o mais poético adeus que Alfredo poderia dar ao seu melhor amigo; é o cumprimento de uma promessa feita há décadas; é, por fim, a constatação de que o velho projecionista, no fundo, sempre soube que seu jovem pupilo haveria de revisitar a cidadela na qual foi criado. Seu legado? O próprio cinema.