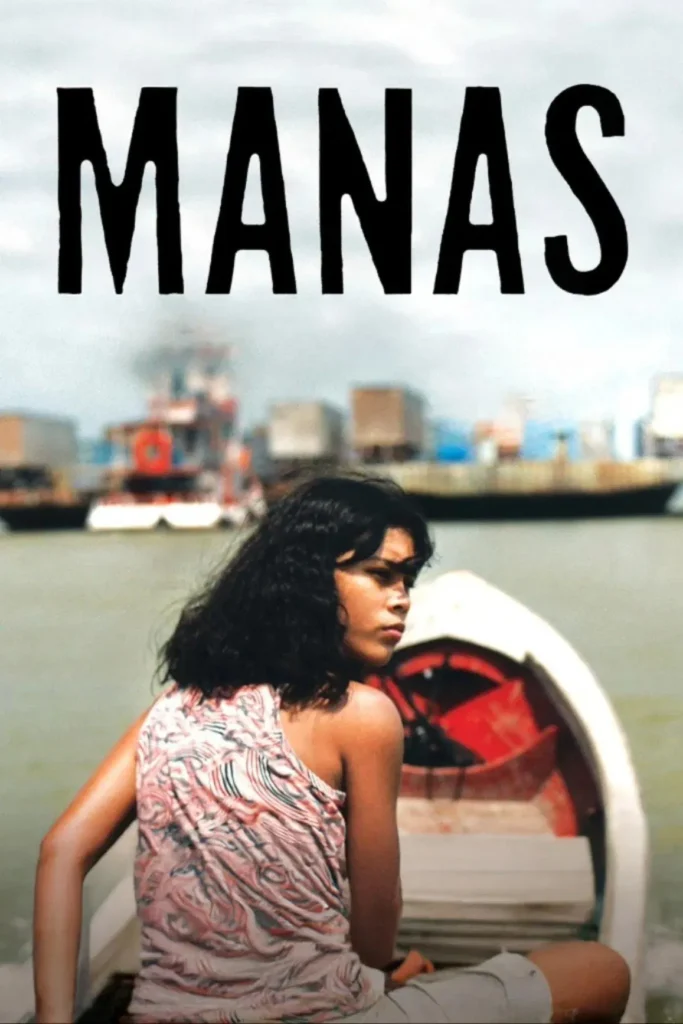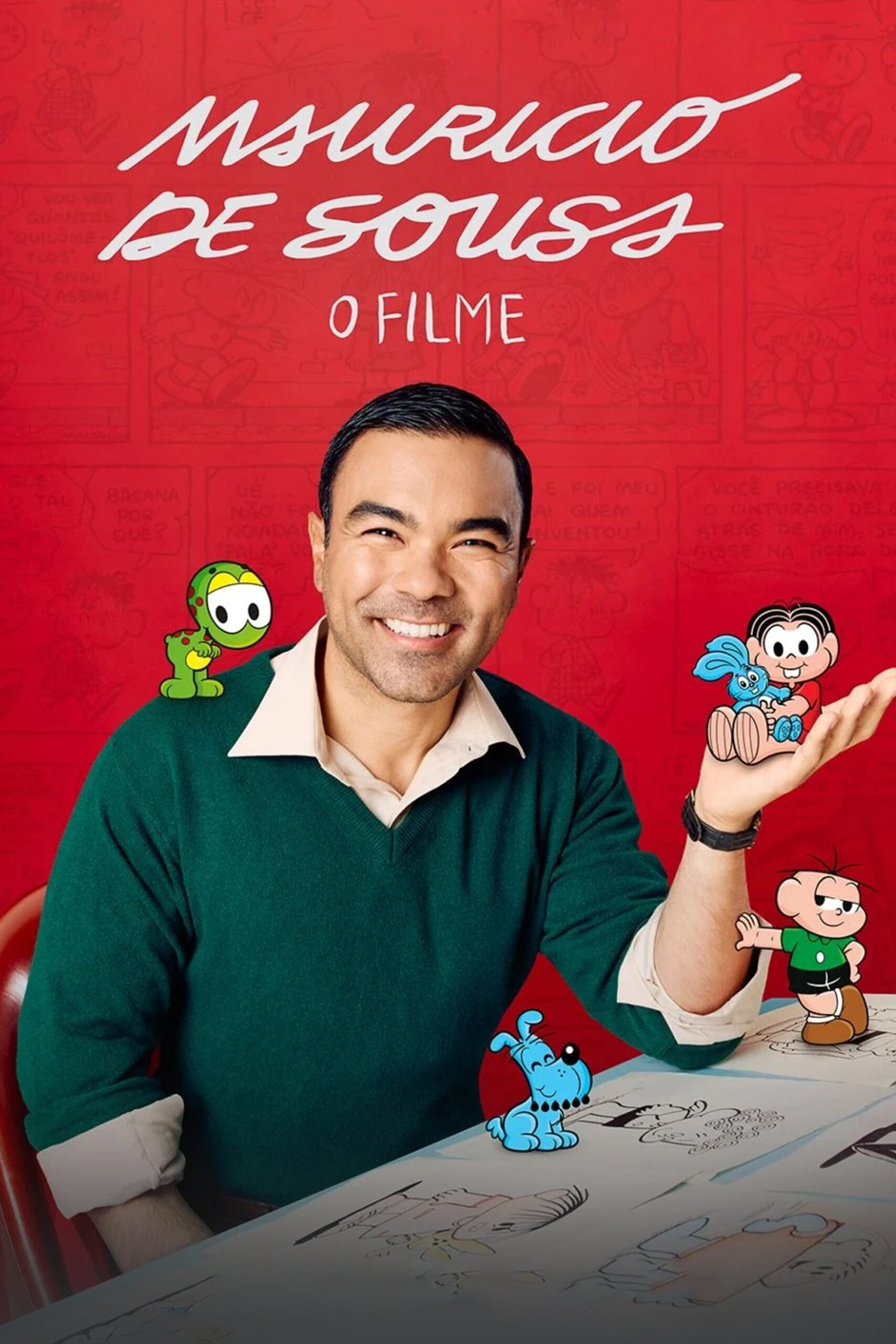Algo que me incomoda muito nos debates da cinefilia brasileira é a concepção de um “filme necessário”. O rótulo costuma ser aplicado a obras que lidam com temáticas social ou politicamente relevantes, e parece funcionar como uma blindagem: parte-se do pressuposto de que, por abordar assuntos urgentes, o filme se tornaria “essencial”. Essa é uma ideia equivocada e muito prejudicial porque ignora a mise-en-scène e limita a obra — desrespeitando seus méritos enquanto filme, inclusive — ao seu tema.
Penso que a raiz desse equívoco venha de uma confusão entre função e valor artístico. Toda obra de arte é inútil, uma vez que sua durabilidade independe de qualquer utilidade imediata. A arte não precisa servir a nada para existir e, justamente por isso, resiste ao tempo. Dessa forma, tudo que se presta a uma função pode deixar de ser útil em algum momento, mas a arte sempre permanecerá (como documento histórico, como expressão humana, como visão de mundo de um indivíduo ou de um grupo). Ao classificar um filme como “necessário”, comete-se o erro de reduzir uma obra artística a uma ferramenta circunstancial, algo que só tem valor enquanto sua pauta estiver em voga. É um reducionismo que, reitero, enfraquece discussões sobre cinema e faz do espectador refém de uma pedagogia moral, mas também é um comportamento que se faz cada vez mais recorrente na recepção de títulos como Medida Provisória, Marighella, Som da Liberdade e, mais recentemente, Manas.
É injusto ver como Manas tem sido defendido quase exclusivamente pela importância de seu tema, e raramente por sua força dramática. Digo isso porque há muito para elogiar aqui, como a decisão de Marianna Brennand — habituada a dirigir documentários — em abandonar o registro documental e recorrer à ficção para retratar essa realidade tão dolorosa. Isso preserva a identidade de vítimas reais e permite condensar dores coletivas em personagens fictícias, evitando a exposição dessas mulheres. Soma-se a essa delicadeza uma atmosfera desconfortante que se sustenta ao longo do filme, traduzindo com primor o sufocamento social vivido pelas personagens através de planos fechados, trêmulos e sem a necessidade de recorrer a trilhas instrumentais que reforcem esse incômodo. São escolhas formais que demonstram uma intenção estética sensível, ainda que não sustentem todas as ambições que o longa tenta assumir.
A forma com que Manas se apropria do espaço, por exemplo, é bem problemática. A Ilha de Marajó surge como um cenário exótico, nunca como personagem, uma vez que a especificidade cultural desse espaço, em vez de dar textura e singularidade à obra, é diluída em escolhas genéricas de como retratar o local. É como se o território, por si só, trouxesse densidade à narrativa, mas isso não acontece: a ilha é só um detalhe, e a trama poderia muito bem ser ambientada em outros cenários periféricos. Com essa possibilidade, a história perde força, e falta tato para usar as particularidades territoriais como meio de alcançar um comentário universal, além de evidenciar a falta de raízes da diretora naquele local.
É muito comum ver filmes que retratam realidades às quais seus cineastas não pertencem. A fim de evitar distanciamento ou apropriação cultural, o que se espera desses diretores é que haja uma pesquisa rigorosa, escuta sensível e cuidado para não reduzir a complexidade dessas vidas a estereótipos, mesmo sabendo que nunca será possível ter propriedade em retratar a experiência de toda uma vida. Em Manas, esse distanciamento é bem perceptível. Trata-se de um filme dirigido por uma mulher branca, brasiliense e formada na Universidade da Califórnia. Ainda que Brennand tenha feito uma extensa pesquisa sobre a Ilha de Marajó, a obra nunca consegue superar a sensação de estar sendo contada por um olhar externo, uma câmera que mergulha no íntimo de sua protagonista enquanto falha em dar vida ao ambiente que ela habita. Assim, o longa permanece marcado pelo olhar de uma mulher branca e rica sobre uma realidade marginalizada. A intenção é louvável, a execução, nem tanto.