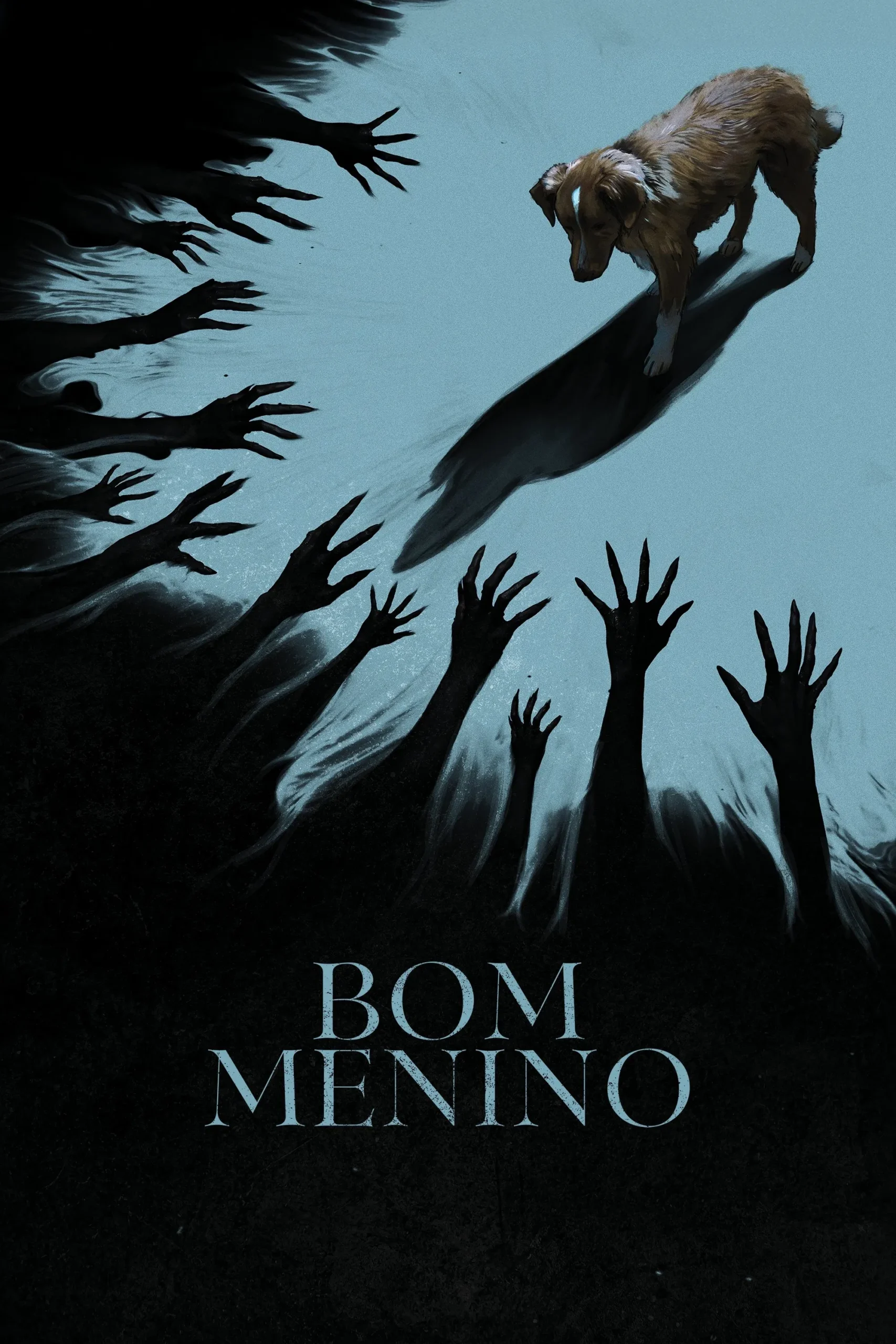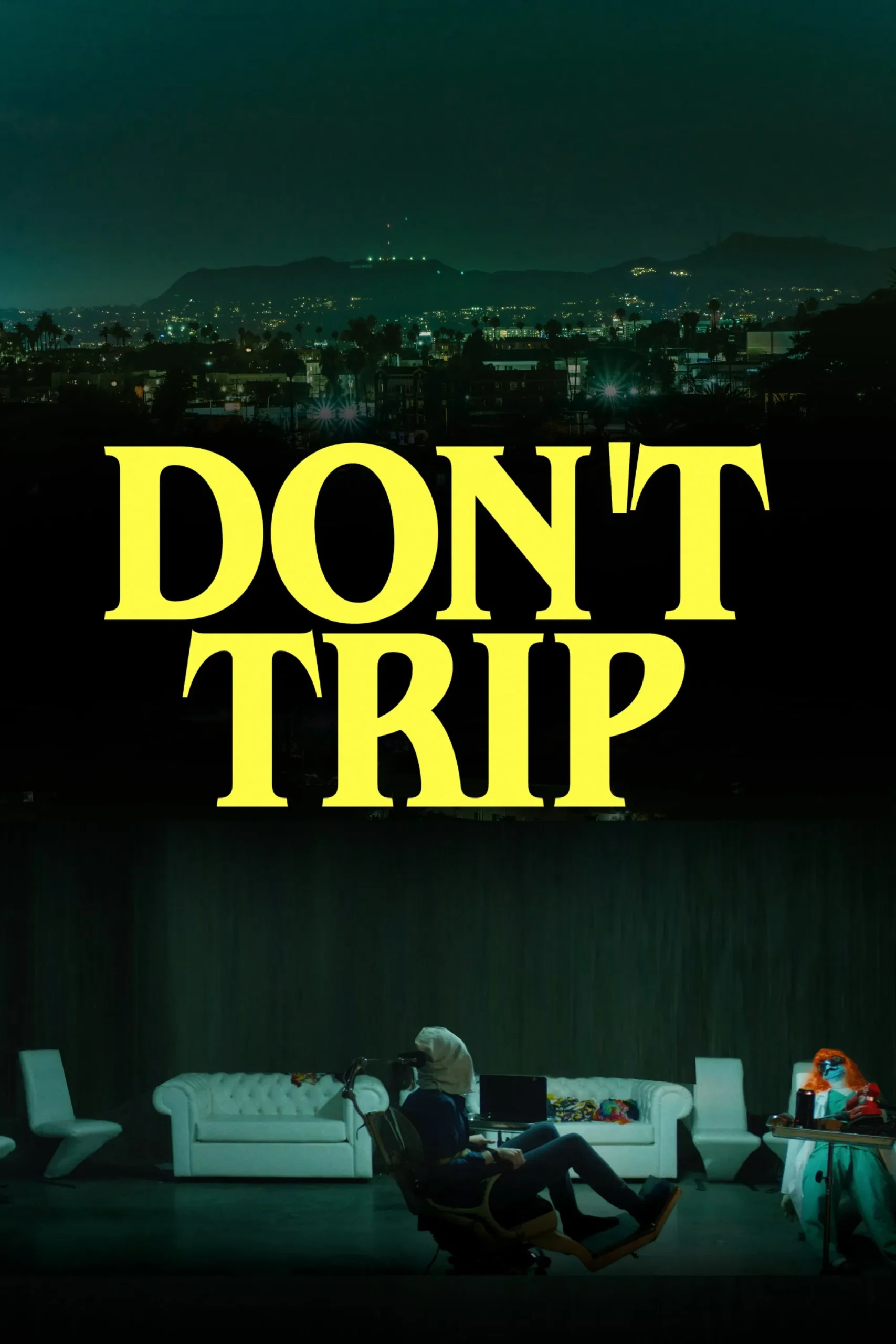Parece loucura pensar que Nosferatu, o Vampiro (1922), um dos filmes mais seminais do Expressionismo Alemão e uma das obras de terror mais importantes da história, poderia não ter sido visto após a época de seu lançamento. Isso porque o filme clássico silencioso de F. W. Murnau é um plágio do livro de Bram Stoker, Drácula (1897). Entre o lançamento dessa peça literária no final do século XIX e a icônica atuação de Béla Lugosi no filme homônimo da década de 1930, houve Nosferatu (1922), mais um filme alemão do período pós-Primeira Guerra, que copiou a ideia do livro e fez sucesso. Isso não agradou à família de Stoker, que processou os produtores e exigiu que as cópias fossem destruídas. Claro que nem todas foram extintas, o que permitiu que a verdadeira figura de um vampiro assustador fosse cristalizada na cultura popular.
Mais de um século depois, Robert Eggers assina uma nova versão do clássico. O resultado é um filme de horror verdadeiramente bom: essa é uma obra de terror violentamente eficiente e canonicamente memorável. No conto gótico, passado em meados do século XIX na Alemanha, acompanhamos o vendedor de imóveis Thomas Hutter (Nicholas Hoult) na responsabilidade de negociar uma nova residência para Conde Orlok (Bill Skarsgård). Durante sua viagem para as montanhas da Transilvânia, para prosseguir com as burocracias da compra, Thomas enfrenta pesadelos e chega à conclusão de que o conde é um vampiro. Longe dali, sua noiva, Ellen (Lily-Rose Depp), é perturbada por sonhos assustadores que se conectam com o vampiro. Quando Orlok chega à cidade, traz consigo uma onda de morte e desgraça, que apenas uma jovem pura poderia deter.
Em geral, esse novo filme é praticamente igual à versão original. Porém, um dos seus maiores feitos é as poucas alterações que expandem seu material de origem. No caso, a mais eficaz acaba sendo a personagem de Ellen (Lily-Rose Depp). No original, Ellen torna-se o objeto de desejo de Orlok quando o Conde vê uma foto dela durante a viagem de Hutter, o que desencadeia eventos que culminam em seu sacrifício para deter a praga. No filme de Eggers, o destino de Ellen é o mesmo, mas há um passado que dá complexidade: quando mais jovem, a moça suplicou que alguma criatura acabasse com sua solidão, acordando assim o vampiro e selando o destino de ambos. Embora isso dê uma certa margem para vilanizar a moça, permite que ela seja mais ativa e seu sacrifício final pareça o fechamento de um ciclo consolidado do que apenas um ato heroico.
Além de mais coerente e coeso, Nosferatu (2024) é mais explícito, visceral e maduro. O imaginário da figura do vampiro, por exemplo, é a personificação genuína da repulsa. Em uma cena final, Ellen seduz Orlok. Ele suga seu sangue de maneira sexualizada, mas não percebe que o dia amanheceu e acaba morrendo. Então, é revelada sua forma: pernas esqueléticas, dorso corcunda, pele pálida e falta de músculos. Essa é uma cena verdadeiramente perturbadora, mas que fecha uma sequência de elementos que sustentam essa progressão: Ellen está em sua versão mais erotizada até agora e o diretor não poupa nenhum personagem da morte. Há uma cena em que Orlok, para se vingar de Ellen por ela ter transado com Hutter, assassina brutalmente a esposa e as filhas de Friedrich Harding (Aaron Taylor-Johnson), um amigo do casal. O destino do rapaz é angustiante de assistir.
Essa metodologia funciona bem pela adaptabilidade de Eggers. No filme de 1922, o horror era mais direto, canalizado pelas imagens perturbadoras da figura interpretada por Max Schreck. Nessa nova versão, Eggers começa trabalhando com a negação do visual — os primeiros momentos da criatura são em ambientes escuros que não deixam seus traços claros —, mas não se limita a isso, sabendo dosar bem o grotesco explícito com a ferramenta da sugestão. O resultado é uma progressão bem calibrada e desconfortante, sustentada também por planos tortos ou estranhamente simétricos. Como consequência, a ambientação do filme é um de seus grandes focos: embora ela não seja tão enigmática quanto a do filme de 1922 e nem brinque com um certo teor onírico como em Nosferatu: O Vampiro da Noite (1979), de Werner Herzog, ela é mais que eficaz em pesar o clima em um ato de canonização.
Em vista disso, Nosferatu é uma obra que consegue se impor como clássica. Uma das minhas primeiras percepções que sustentam esse ponto é o quanto o roteiro é didático. Sendo sincero, parece que os diálogos são uma adaptação direta dos intertítulos do filme de Murnau. Se por um lado isso configura uma simplificação, por outro impõe uma atemporalidade. No caso, o que faz com que o filme penda mais para o segundo lado é a direção de Eggers, que não é nada pedagógica. O diretor apresenta planos que seguem mais um desejo artístico e que, por vezes, podem soar ambíguos. Felizmente, tudo isso funciona: um roteiro de falas propositalmente mastigadas, calculadas em uma decupagem que não se esforça para ser acessível e executadas dentro de uma progressão direcional sólida. O produto beira uma teatralidade anacrônica: no melhor sentido, Nosferatu parece mais antigo.
Robert Eggers é um ótimo diretor quando o assunto são obras que se passam em tempos distantes — vide A Bruxa (2015) e O Farol (2019). Em Nosferatu, no entanto, ele atingiu novamente a excelência: os melhores momentos de Nosferatu, o Vampiro (1922) e Nosferatu: O Vampiro da Noite (1979) estão aqui, bem como a assinatura do diretor. Meu único ponto negativo é que o filme não soa tão estranho quanto a versão de Herzog, que brinca com contrastes oníricos. Todavia, o resultado é mais que um êxito para o gênero.
(Nota: Este texto foi publicado originalmente no site Cinemanorama e, desde setembro de 2025, encontra-se também disponível no site Suborno.)